#6: Como o filme da Barbie curou a minha dissonância cognitiva
Barbiecore para além do cor de rosa
Oi amigas
Sinto muito, mas o filme da Barbie é inescapável.
É um caso engraçado de filme que virou #conteúdo muito antes de chegar nos cinemas, com um roteiro que antecipa todo o discurso que se construirá sobre ele, o que só gera um discurso maior ainda. Mais fascinante que isso, é um filme sobre uma personagem mundialmente conhecida que não traz nenhuma história consigo.
Existem personagens secundários com histórias engraçadinhas e revistinhas dos anos 60 que foram resgatadas para nos lembrar que a Barbie tem pai, mãe, irmãs e é só uma adolescente que faz bico de modelo e quer se divertir. Mas nada disso rende uma thread no Twitter com alguém querendo te educar sobre a personagem, não tem nenhuma cena pós créditos com 34 easter-eggs sobre os próximos 5 filmes da franquia, ninguém te pergunta por onde deve começar para entender a história. É uma paz terrível.
Não existe história da Barbie, mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem uma história com a Barbie. Essa é a minha.
Hello stranger, como vai você? Seja bem-vinde ao Boudoir da AV, somos todas amigas aqui.
💅 Meu nome é Anna Vitória, eu sou jornalista, estrategista, pesquisadora, uma anticapitalista viciada em cremes que pensa demais e tá sempre de olho em um blush novo. Não sou dermatologista e tudo que escrevo aqui é de minha total e completa irresponsabilidade. Clique aqui para saber mais.
👄 Não ganho nada para indicar coisas por aqui, mas se um dia eu ganhar alguma coisa pode deixar que você vai ficar sabendo. Os links da Amazon vêm do programa de afiliados e rendem uma pequena comissão para mim sem que você pague mais por isso.
👠 Você pode me encontrar no Twitter, no Instagram ou deixar um comentário nessa newsletter sempre que quiser falar comigo.
🌻 Se você conhece alguém que pode gostar desse tipo de conteúdo, compartilhe essa newsletter. E se você chegou aqui por conta da indicação de alguém, assine agora e receba as próximas edições direto na sua caixa de entrada!
O Antonio Prata tem uma crônica de 2009 sobre uma viagem que ele fez aos Estados Unidos para visitar sua irmã. Na época ela me chamou atenção especialmente porque seu destino era Poughkeepsie, cidadezinha próxima de Nova York que já existia no meu imaginário por conta do episódio “Aquele com a garota de Poughkeepsie”, de Friends. Poughkeepsie é um nome divertido demais para se esquecer.
Relendo a crônica agora, me parece um texto carregado de um olhar um tanto quanto colonizador. Basicamente, Antonio Prata chega em Poughkeepsie e fica fascinado com a calmaria e organização da cidade, tão diferente do caos que vivemos abaixo da linha do Equador. Consigo fazer essa análise hoje, mas, lá em 2009, aos 15 anos, fiquei maluca com a maneira que ele conseguiu descrever algo que me atormentava, mas eu não era capaz de colocar em palavras: o choque constante entre um imaginário de realidade que absorvi pela televisão e o mundo que conhecia quando colocava os pés para fora de casa, em Uberlândia (MG).
Para quem cresceu no terceiro mundo, nas décadas de oitenta e noventa, viajar pelos Estados Unidos é uma espécie de déja vu. É como voltar para uma infância que vivemos por tabela. A paisagem da maioria de nossos filmes, programas de TV, livrinhos infantis, etc, etc, etc, é essa. Você olha pra fora da janela do carro e pensa "olha ali o bosque em que Eliot levou o ET. Olha ali a marmota do Bill Murray. Olha ali o capim de onde voavam os patos naquele jogo do Nintendo, Duck Hunt. Olha ali os patos do Duck Hunt!" Dezenove milhões de horas de televisão ao longo da vida imprimem no cérebro do sujeito a sensação de que esse é o mundo real.
Na infância, eu vivia atormentada com o fato da vida real não corresponder com a representação de mundo que existia na minha cabeça, construído a partir de muitas horas na frente da televisão. Eu não entendia por que as casas não tinham uma cerca branca na frente e aquele telhado triangular típico das casas de subúrbio estadunidenses. Nada do que eu via ao meu redor se parecia com o que aprendi que era o mundo, uma escola, ou uma cidade, e na minha tenra infância isso me deixava muito desconcertada, era uma dissonância cognitiva (wink-wink-nod-nod) insuportável.
Decepção maior, acho, só mesmo quando me dei conta de que as Barbies não se movimentavam sozinhas como sugeriam as propagandas de televisão.
Para além de uma concepção limitada de urbanismo, essa infância noventista na frente da televisão também foi responsável por referências de moda e beleza muito formativas: a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, que ilustra o cabeçalho desta newsletter, a cigana Dara, de Explode Coração, a viúva Porcina, de Roque Santeiro (precisamos falar sobre a importância cultural do Video Show na formação do repertório estético das crianças millennial) e, claro, a Barbie. É claro que eu fui uma criança Barbie.
Por mais que eu gostasse da boneca em si, minha coisa favorita da Barbie era um álbum de figurinhas lançado em 1998. Eu tinha quatro anos e levava ele comigo para todos os lugares, como se fosse uma boneca. Esse álbum é uma das minhas primeiras memórias de infância, sobretudo pela tragédia que vivi graças a ele, talvez minha primeira grande experiência com perdas, a primeira vez que precisei enfrentar as consequências dos meus atos.
Um belo dia, esqueci o álbum no quintal da casa da minha avó e ele foi praticamente destruído por uma tempestade.
Minha avó, a grande heroína dessa história, não só remendou o álbum inteiro com fita durex, pacientemente, como encomendou na Panini, por carta (!), as figurinhas que faltavam para que eu completasse o álbum1. Lembro até hoje de quando o pacote chegou, nós duas sentadas na cama dela colando uma por uma, meu senso de identidade, pertencimento e segurança se restaurando através daquelas figurinhas laminadas, à época chamadas de cromos.
No livro ilustrado “Barbie Star” (1998), as figurinhas não tinham ilustrações da Barbie, mas sim montagens feitas com bonecas de verdade. Era esse o grande barato para mim, que estava numa idade em que as fronteiras entre realidade e imaginação são totalmente embaçadas. Eu não queria ser igual aquela boneca e nem ter todas aquelas bonecas, meu negócio eram as roupas e todo o universo simbólico construído a base de muito plástico e tinta cor de rosa. Em algum lugar na minha cabeça, eu acreditava na existência de uma espécie de Barbielândia, como a do filme, e era esse o universo que eu gostaria de habitar. Eu queria crescer e me vestir igual as Barbies do meu álbum de figurinhas, roupas coloridas, brilhantes, com aplicações de plumas e muitos tamanquinhos2, e não entendia bem por que eu estava presa numa dimensão em que nada era cor-de-rosa e ninguém usava trajes de patinação elaborados.

Nessa fase da infância eu basicamente só usava roupas cor-de-rosa e vestidos de princesa e não entendia por que as pessoas simplesmente não poderiam seguir aquele ideal estético. O fato da minha mãe, uma mulher adulta (e loira!), não ter nenhum scarpin branco de bico redondo me tirava do sério. Um pouco mais velha, quando entrei numa onda de brincar de estilista, todas as minhas produções eram finalizadas com um sapatinho branco ou um tamanquinho de pompom. As roupas que desenhava eram parecidas com as da Barbie: as cores, os modelos de sapato, o comprimento dos vestidos, os detalhes. Minhas primeiras memórias de internet são os jogos de montar roupinhas no site da Barbie, o mais próximo da realização desse meu ideal que eu podia chegar. Uma pena que eu era nova demais para saber da existência de Carmela Soprano nessa época.
Na pré-adolescência, fiquei obcecada por filmes hiperfemininos como Legalmente Loira, As Patricinhas de Beverly Hills, Meninas Malvadas, Romy and Michelle’s High School Reunion e afins, assim como era fissurada por Britney Spears, Paris Hilton e Lindsay Lohan. Para além de todos os pontos óbvios de fascinação, hoje entendo que esses universos traziam uma sensação reconfortante de reconhecer neles aqueles símbolos tão formativos da minha infância que eu não encontrava correspondência em outros lugares. A materialização deles para além do meu álbum de figurinhas era uma afirmação de que eu não estava maluca, uma sensação satisfatória como imagino que deve ser andar por Poughkeepsie, similar também à experiência decolonial que tive quando fui ao Rio de Janeiro pela primeira vez e me senti num live action de novelas da Globo. A arquitetura da cidade é muito diferente do que se vê em São Paulo e em Minas Gerais e foi profundamente reconfortante saber que aquilo existia fora da minha cabeça. Parecia que tudo, finalmente, se encaixava.


Uma liberação do realismo
Quando estourou a onda #Barbiecore, não foi difícil diagnosticá-la como um sintoma da nossa busca por conforto em meio ao caos e à destruição inevitável. Antes mesmo que qualquer imagem do filme fosse divulgada, já existia um movimento na moda a favor do exagero e da diversão, com cores brilhantes, aplicação de plumas, estampas e combinações pouco convencionais — uma reação aos anos de pandemia, uma celebração à vida fora de casa e também um visual que fala a mesma língua dos algoritmos das mídias sociais. A dopamina que deu nome à tendência vem tanto do efeito de usar roupas divertidas como também da economia de atenção que ela faz girar. Mas divago.
Pierpaolo Piccioli, estilista responsável pela famigerada coleção rosa choque do Valentino, defende que a cor, que acabou virando símbolo da moda dopamina, funciona como uma manifestação do inconsciente e uma liberação da necessidade de realismo. Sinto que crescer nos anos 90 e 2000 é uma experiência de imersão gradual no realismo em suas mais variadas formas, num eterno desencontro entre o que imaginamos que seria a vida e a vida de verdade. Talvez isso seja apenas a experiência de crescer, independentemente da geração, mas a nossa geração foi especialmente marcada por fenômenos como versões realistas e sombrias de clássicos da infância, do cinismo generalizado, da queda dos heróis e exaltação dos antiheróis, imagens de alta resolução e efeitos especiais cada vez mais sofisticados contra cenários feitos de papelão e isopor. Tudo isso aliado ao colapso da civilização. Normal.
O espetáculo, por sua vez, fica a cargo da vida encenada nas redes, no Instagram, com mediação de marcas e big techs, e é tudo tão triste e vazio. Mais do que isso: é tudo tãããããoooo feiooooooo.
Por mais que seja impossível dissociar o #barbiecore do seu aspecto mercadológico, fui pega de surpresa pela satisfação profunda, pessoal, que senti diante dessa liberação do realismo que as roupas tem me oferecido. O que mais gostei no filme da Barbie foi a maneira como ele capta perfeitamente a experiência de brincar de Barbie, algo que eu não pensava há pelo menos uns 20 anos e não sabia que seria tão significativo ver refletido na tela. Sempre digo que não sou uma pessoa lúdica, que sou alguém sem muita imaginação e que detestaria ser criança de novo. A onda nostálgica dos últimos anos mais me angustia do que alivia. Tudo isso segue sendo verdade, quase não uso cor-de-rosa hoje em dia3, mas faço análise há 6 anos e sei que a gente não consegue escapar das manifestações do nosso inconsciente. O reencontro com eles é sempre explosivo e não foi diferente dessa vez.
Não esperava que isso acontecesse numa sessão de Barbie, com todas as contradições que o filme carrega, mas foi uma delícia estar usando uma blusa com aplicação de marabu, sapato dourado e sombra rosa brilhante nos olhos, exatamente como aquela criança que fui um dia — e que quase morreu de chorar em 1998 achando que tinha arruinado seu brinquedo favorito — gostaria que fosse.
O que usei para ver o filme da Barbie
Eu sei que o briefing dizia para usar rosa, mas não poderia perder a oportunidade de misturar vários elementos mais lúdicos que estão tão associados à minha infância apaixonada por Barbies. Era isso que eu esperava do mundo lá fora quando era criança, não é pedir demais.
Espero que tenha gostado da edição! Aproveitei para fazer algo que queria fazer há muito tempo: digitalizei meu álbum de figurinhas da Barbie que, sim, existe até hoje! Coloquei no meu Drive e deixei aberto para quem quiser visualizar e matar a saudade. Se você teve esse álbum também, me conta nos comentários?
Outras coisas legais que li e assisti sobre o legado da Barbie e me inspiraram para escrever essa edição:
Explaining the hyperfemininity aesthetic (Mina Le);
Design expert breaks down Barbie dream-house evolution (Architetural Digest);
Exploring the girly visual world of High Femme Cinema (Anna Bogutskaya);
Por ora, fico por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima!
Um beijo,
Anna
Só não completei o álbum por conta de 01 figurinha, a amaldiçoada figurinha 175, e isso me assombra até hoje.
Minha nostalgia não foi capaz de redimir os tamanquinhos, hoje em dia tenho horror a esse tipo de sapato. Pelo amor de Deus, preservem seus calcanhares.








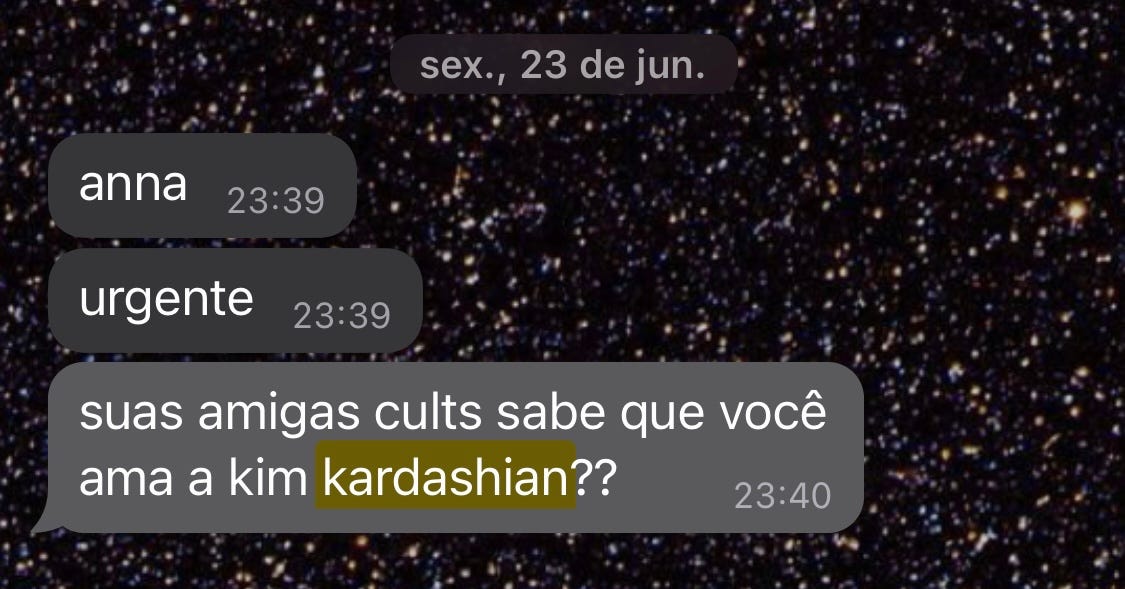
Eu tinha esse álbum também! Nunca foi "complecionista" então não terminei, nem cheguei perto, mas AMAVA ficar vendo as bonecas todas arrumadinhas nas cenas, uma coisa meio fotonovela... Delícia de lembrança!
Meeeeu deus! Esse álbum de figurinhas foi a minha madeleine do proust. Eu passava hoooooooras olhando e memorizando cada foto, cada textura das roupas, cada cenário! Nem imaginava o tamanho do impacto que ele teve na minha personalidade mas, analisando agora, depois dele, era inevitável que eu gostasse de passar a tarde folhando a capricho, amasse legalmente loira e virasse leitora assídua de Anna Vitória Rocha. Não tinha como fugir 😂